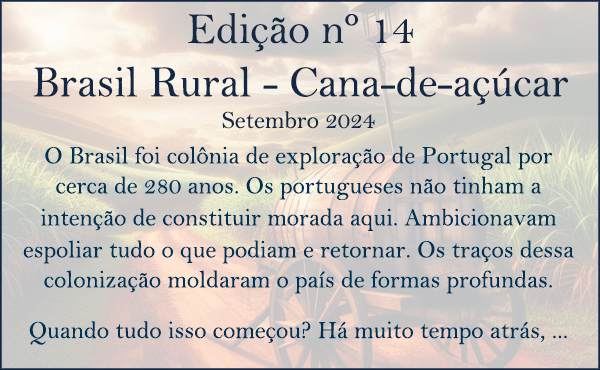
Introdução | Resenha do livro: Fogo Morto | Filme: Abril Despedaçado | Boias-frias | Pastel de Feira + Caldo de Cana | Cachaça | Rapadura | Maculelê | Doce Amargor | Livros Indicados | Corpo Editorial | Escritores da Edição
Utilize a navegabilidade da página:
Clicando nos títulos do sumário o artigo referente será posicionado. (o site tem o botão de topo durante toda navegação).
Clicando nos nomes dos autores dos artigos te levará ao perfil do Instagram (em nova aba).
No decorrer do texto podem existir links para acessar mais informações referente ao conteúdo.
Se preferir o arquivo em PDF para ler off-line e compartilhar, baixe-o aqui.

O Brasil foi colônia de exploração de Portugal por cerca de 280 anos. Os portugueses não tinham a intenção de constituir morada aqui. Ambicionavam espoliar tudo o que podiam e retornar. Os traços dessa colonização moldaram o país de formas profundas. Até hoje fornecemos commodities para as grandes potências econômicas, num ciclo vicioso de exploração da terra e parcos trocados para quem realmente produz, concentrando riqueza nas mãos de poucos. Exportamos soja e carne bovina a custos civilizatórios muito altos.
Quando tudo isso começou? Há muito tempo atrás, nos ciclos econômicos do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do charque, da borracha, do ouro, dentre outros.
Acreditamos que para uma sociedade mais justa e igualitária seja indispensável fazermos uma reflexão sobre o que somos. Assim, o Literato Dente-de-leão trará edições sobre os ciclos econômicos do Brasil, a começar pela cana-de-açúcar.
Já parou para pensar que não é somente na forma de cultivo, no uso da mão-de-obra, que a cana-de-açúcar influenciou a vida do brasileiro? São inúmeras manifestações culturais e hábitos que se incorporaram ao nosso modo de ser e agir.
Esperamos que a edição seja um bom ponto de partida para olharmos a cana-de-açúcar além do açucareiro ou das páginas amareladas dos livros de História. Boa leitura!
Daiane Carrasco

Resenha do livro: Fogo Morto, de José Lins do Rego, por Marcelo Elo Almeida
Muito Cacique, Pouco Índio e Quase Nenhuma Farinha
Fogo Morto, romance dos anos 40 do paraibano José Lins do Rego, é mais do que simples regionalismo que, durante um bom tempo, foi o termo com o qual a crítica classificava a literatura feita por escritores nordestinos. Espaço e personagens são nordestinos, sem dúvida, mas, a seguir tal critério, Machado de Assis, centrado no Rio de Janeiro, também seria regionalista. Vamos chamar de modernismo, soa bem melhor e é menos preconceituoso.
Tendo por palco Pilar, cidade do agreste paraibano, chamada no romance de várzea para se diferenciar do sertão, tem nos engenhos de açúcar a base da economia e de toda estratificação social no início do século XX. Realidade mais ampla do Nordeste de forma geral, a estrutura latifundiária, concentradora de poder e riqueza, dita o ritmo de vida de seus moradores, senhores ou subalternos.
Em Fogo Morto, tal estrutura social é apresentada pelos pontos de vista de três personagens que encabeçam os capítulos do livro: Mestre Amaro, um seleiro que vive nas terras do engenho Santa Fé; Coronel Lula de Holanda, proprietário do engenho onde reside o Mestre Amaro e Vitorino Carneiro da Cunha, titulado capitão, porém pobre, envolvido com a política. O enredo gira em torno da decadência da região nordestina que, no início do século XX, por conta da miséria, cedia continuamente mão-de-obra para o Sudeste do país, esvaziando-se econômica e socialmente. Mas, mesmo decadente, nada muda. Ao contrário, fogo morto é expressão usada para indicar que um engenho parou de funcionar, parou de produzir açúcar. As trajetórias dos personagens principais refletem essa decadência.
José Lins do Rego explora de forma muito acurada cada aspecto social e psicológico das figuras centrais do romance, detalhando ao máximo os caminhos mentais e estados de espírito de Mestre Amaro, por exemplo, homem amargurado por sua posição social e que se revolta contra o dono da terra. Seus conflitos internos, reflexos de sua condição paupérrima e de incompreensão de seu destino, o levam a se tornar aliado do cangaceiro Antônio Silvino. Morando na beira da estrada e exercendo seu ofício do lado de fora de casa, ele tem contato constante com os mais diversos tipos que transitam pela região, desde o proprietário das terras, Coronel Lula, até o cego Torquato, informante do cangaceiro, que o alicia. Pessoa dura e de difícil trato, torna-se inimigo do Coronel Lula, que o expulsa de suas terras. Acaba sendo associado pela população a um lobisomem, pelo simples fato de ter os olhos amarelados, ser rude e fazer caminhadas noturnas. Aqui, o autor faz uma crítica direta à crendice popular e aos seus preconceitos.
No segundo capítulo, é contada a história de Lula de Holanda, um morador da capital que acaba se casando com a herdeira da Fazenda Santa Fé. Por conta da mentalidade machista, mesmo sem ser o legítimo herdeiro, assume os negócios do engenho, intitulando-se coronel e senhor de terras, sem nunca ter trabalhado para construir ou manter tal patrimônio. É nítido que são os trabalhadores que tocam o engenho e produzem a riqueza. Machismo, orgulho, patrimonialismo e parasitismo presentes no mesmo personagem. Ele vê o mundo como uma estrutura fixa, hierarquizada e imutável, comportando-se como um rei, mesmo que o “seu” engenho não seja o maior nem o mais rico. Orgulho e preconceito são adjetivos bem aplicáveis ao Coronel, exemplo de uma mentalidade social mais ampla.
No terceiro capítulo, temos Vitorino Carneiro da Cunha, um homem sem terras nem poder, porém parente do coronel mais rico da região. Portador também de um orgulho extremado, não se submete a ninguém: poderosos como os policiais, coronéis e jagunços ou os moleques que o xingam pelas estradas. Quixotesco, não tem papas na língua, falando o que pensa a quem quer que seja. Por isso mesmo, não é levado a sério por ninguém. Que sujeito é esse que não tem respeito pelo poder e que destrata a todos que se apresentem na sua frente? – perguntam-se as pessoas do Pilar. Um louco, obviamente, que, portanto, é ridicularizado e desprezado, tratado com um inconveniente a ser tolerado.
Não é por acaso que dois dos três capítulos são dedicados àqueles que desafiam o poder, Mestre Amaro e Capitão Vitorino, e que se tornam vozes inconscientes contra a decadência e o atraso econômico e social de uma sociedade fundada em estruturas arcaicas de relações de poder. É de se notar a quantidade de patentes existentes no romance. Coronéis, majores, capitães e tenentes distribuem-se pela história como polvilho num tabuleiro de bolo. Em cada canto, um graduado, seja ele jagunço, senhor de engenho, delegado ou o mentecapto Vitorino. Muito cacique, pouco índio e quase nenhuma farinha.
Cabe ressaltar o nível poético das descrições detalhadas do ambiente rural e que se ajustam às circunstâncias do romance e dos estados de espírito de seus personagens. O leitor atento perceberá que juazeiros, bogaris, pitombeiras e cardeiros (mandacaru) são integrados na narrativa de modo dialógico, refletindo as ideias do romance. Um capítulo à parte da rica narrativa de Fogo Morto.
Outro aspecto notável da obra de José Lins são as múltiplas vozes da narrativa. Sempre com narrador oculto, por inúmeras vezes nos dá a impressão de a história estar sendo apresentada em primeira pessoa, tal a propriedade com que o autor descreve os protagonistas. Como numa ciranda, onde no centro encontra-se o engenho, símbolo do poder, e à sua volta aqueles que fazem a engrenagem funcionar, cada um colocando-se a partir de seus diversos pontos de vista, sem porém jamais olhar para os lados ou para trás. Ou um pião que, sem ação externa que o motive, perde sua energia pouco a pouco até parar e se tornar fogo morto.


Fogo Morto
Autor: José Lins do Rego
Lançado em 1943, Fogo morto é considerado por muitos críticos a obra-prima de José Lins do Rego. O livro encerra o que se convencionou denominar, dentro da obra do escritor paraibano, o “ciclo da cana-de-açúcar”, série iniciada pelo romance Menino de engenho, de 1932. A obra é dividida em 3 partes, cada uma delas dedicada a um personagem específico. Na primeira parte do livro, conhece-se as agruras de José Amaro, mestre seleiro que habita as terras pertencentes ao seu Lula, protagonista da parte seguinte da obra e homem que se revela autoritário no comando do Engenho Santa Fé. O terceiro e último segmento de Fogo Morto centra-se na trajetória de Vitorino Carneiro da Cunha, que vive em situação econômica complicada, perambulando a cavalo sempre pronto a lutar com suas forças contra injustiças à sua volta. Saiba mais…

Filme: Abril Despedaçado, de Walter Salles Júnior, por Daiane Carrasco
Abril Despedaçado retrata a rixa de duas famílias, Ferreira e Breves. Seguem uma lógica brutal, um código de honra no qual quem matava um membro da família rival passava a ter seus dias contados. Colocava-se hasteada a camisa ensanguentada do morto. Era um estandarte da morte. A vida media-se pelo tempo em que o sangue demorava a desbotar da roupa pela exposição ao sol.
Tonho (Rodrigo Santoro) é incumbido pelo pai de vingar a morte de seu irmão mais velho. Transtornado por seu fim iminente, sua vida muda. Passa a contestar seu universo violento e familiar. Há o contraponto poético através de dois artistas de circo que cruzam o caminho de Tonho e a inocência de seu irmão mais novo, chamado Pacu (Ravi Ramos Lacerda).
Não darei spoilers aqui. O que posso afirmar com plena convicção é que o filme é um dos melhores trabalhos de Walter Salles Júnior. O roteiro, escrito por ele, Sérgio Machado e Karim Ainouz, foi baseado no romance “Prilli i Thyer” (1978), do escritor albanês Ismail Kadaré. A história levanta questões importantes, como a violência no campo, o amor entre irmãos e o determinismo das disputas de terra e das relações familiares, predominantemente patriarcais.
A bela fotografia, com tons terrosos e cores quentes, trazem a ideia do calor do sertão. Sentimos nitidamente o universo arcaico de uma moenda de açúcar, com as engrenagens a girar graças ao esforço repetitivo e lento dos bois. Tudo parece arrastado, pesado, como se a vida naquele sertão, no ofício de moer a cana, fazer melado, rapadura e açúcar, fosse um destino inescapável ao jovem Tonho.
As atuações do elenco são formidáveis. É um filme intenso, honesto, que dá vontade de assistir. Na minha opinião, é uma obra que vale cada minuto porque transforma o espectador, não só por mostrar a rotina de um engenho em 1910, mas por nos fazer experimentar a dualidade entre drama e esperança. Numa época em que o cinema nacional é dominado por comédias rasas, Abril Despedaçado é um vento quente que desacomoda, e por isso é tão necessário.

Abril Despedaçado, de Walter Salles Júnior
Em abril de 1910, na geografia desértica do sertão brasileiro vive Tonho (Rodrigo Santoro) e sua família. Tonho vive atualmente uma grande dúvida, pois ao mesmo tempo que é impelido por seu pai (José Dumont) para vingar a morte de seu irmão mais velho, assassinado por uma família rival, sabe que caso se vingue será perseguido e terá pouco tempo de vida. Angustiado pela perspectiva da morte, Tonho passa então a questionar a lógica da violência e da tradição. Saiba mais… (AdoroCinema)


Boias-frias: Entre a Escravidão e a Servidão do Trabalho Assalariado, por Cristiano Landgraf
Para os nascidos entre as décadas de 1970 e 80, as imagens que hoje são raras na mídia, de rostos semicobertos com um pano para se proteger da poeira, da fuligem, com chapéu de palha, eram comuns e características de uma categoria que se submete a condições de trabalho extremamente precárias para garantir o mínimo de pagamento. Sim, estou falando dos boias-frias. Pessoas que chegavam às lavouras em caçambas de caminhões por estradas esburacadas e empoeiradas. Hoje alguns poderiam dizer que era uma grande aventura, mas, na realidade sempre foi um grande risco à vida desses trabalhadores.

Então, quem são os boias-frias e qual a sua origem? São trabalhadores rurais temporários assalariados e sem vínculo empregatício com o dono da terra. Não possuem meios de produção. São agricultores em diversas lavouras sem possuírem terras. Normalmente residem nas periferias das cidades e trabalham em culturas sazonais, migrando de uma região à outra. Trabalham principalmente na colheita da cana-de-açúcar, algodão, café e laranja, mas também em outras, como a colheita da uva (lembram do trabalho análogo à escravidão na Serra Gaúcha, em fevereiro de 2023?). Durante a safra da maçã se deslocam para a Serra Catarinense, principalmente do Nordeste, para trabalhar.
Cobertos dos pés à cabeça, para se protegerem do fogo, da fumaça, da poeira e da própria cana-de-açúcar, que corta como a lâmina dos facões, homens, mulheres, idosos e até mesmo crianças vivem o cotidiano de um trabalho precarizado. O dia dessa gente começa na madrugada. Dependendo da distância até o local de trabalho, a rotina começa às três, quatro horas, da manhã. Para as mulheres, a rotina começa mais cedo ainda: é em frente ao fogão, onde preparam a “boia” que será consumida fria no meio do campo, pois não há onde esquentar a marmita na hora do almoço. E às vezes isso não é garantia de trabalho. Conforme a necessidade do dono da terra por mão-de-obra, muitos ficam para trás, principalmente as mulheres.
Famílias inteiras, ou grande parte delas, se dedicam a esse trabalho insalubre e muitas vezes desumano. Uma vida dura, sofrida, para quem tem pouca ou nenhuma qualificação exigida pelo mercado de trabalho. Muitos têm uma única vontade: trabalhar em outra coisa para fugir dessas condições. Precisamos contextualizar a questão histórica para entendermos o que leva essas pessoas a se submeterem a condições entre a escravidão, a servidão e o trabalhado assalariado.
A partir da década de 1960, inicia-se o processo de êxodo rural – migração de trabalhadores rurais do campo para a cidade. Obviamente, nem todo mundo foi para as cidades. Com o empobrecimento rural, uma parte deixa de ser colona e passa a ser boia-fria, perambulando na própria região entre uma propriedade e outra, sem qualquer direito trabalhista e condições mínimas de trabalho.
Inicialmente os trabalhadores são da própria região, o que muda com o passar do tempo. Com o aumento do cultivo da cana-de-açúcar e de usinas de açúcar, entram nesse cenário migrantes do Nordeste, do norte de Minas Gerais e trabalhadores das fazendas de café do Paraná. Sem qualificação, essas pessoas se submetem ao trabalho braçal, sem direitos e sem segurança. O aumento da oferta de mão-de-obra levou a uma remuneração cada vez mais baixa. Para piorar, no início da década de 80 inicia-se o processo de mecanização[1].
Claro que condições como essas acabam gerando revoltas e muita luta em busca de dignidade e melhores condições de trabalho e salário. A greve de Guariba–SP, em 1984, foi um marco dessa luta. Milhares de trabalhadores se revoltaram contra novas medidas de exploração dos usineiros que exigiam mais trabalho, com redução na remuneração. As trabalhadoras foram as primeiras a se revoltar e impediram o acesso aos canaviais. Logo depois, a repressão policial aconteceu e a resistência contra a violência policial se espalhou. Mais trabalhadores aderiram à greve, que se espalhou no interior de São Paulo entre os cortadores de cana e os que colhiam laranja. Sem sindicato ou apoio político, o levante foi espontâneo e culminou com uma grande vitória da categoria, que teve 13 das suas 19 reivindicações atendidas. Algo fantástico para a época, ainda em plena ditadura militar no Brasil.
Apesar de o processo de mecanização ter reduzido e muito o número de trabalhadores rurais, eles ainda existem em condições precárias, principalmente aqueles que viajam milhares de quilômetros para trabalhar. Lembra que falei sobre o caso das vinícolas na Serra Gaúcha? Esses migrantes são explorados, ameaçados, e muitas vezes feitos de escravos nas mãos dos atravessadores.
Cada vez que você adoça o seu café, come um chocolate ou uma maçã, toma um suco de laranja ou um vinho, etc. tem o suor de trabalhadores rurais no processo até a chegada do produto à sua casa para o seu consumo. Lembre-se das mazelas sociais e conscientize-se sobre elas. Há muito ainda por se lutar!
Fontes consultadas:
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/boias-frias-surgem-na-decada-de-60-anm79sdfts8kn4ag85k9l3ham
https://www.youtube.com/watch?v=Beep-CBukcE&t=14s
https://news.agrofy.com.br/noticia/199894/com-canaviais-99-mecanizados-iea-encerra-serie-boias-frias-em-sp
https://pt.wikipedia.org/wiki/Greve_dos_boias-frias_em_Guariba_em_1984
https://www.youtube.com/watch?v=Beep-CBukcE&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=ZfmhyDjbxm8&t=14s
https://oglobo.globo.com/economia/o-fim-dos-boias-frias-9595711
[1] Em novembro de 2021, o índice de mecanização da cana-de-açúcar no Brasil atingiu 94,3% em 149 municípios e 100% em outros 277. Na safra 2020/21, o número de trabalhadores envolvidos na colheita manual foi de 13.404, muito abaixo dos mais de 160 mil estimados na safra 2007/08.
Fonte: https://news.agrofy.com.br/noticia/199894/com-canaviais-99-mecanizados-iea-encerra-serie-boias-frias-em-sp

Pastel de Feira + Caldo de Cana = Memórias, por Mara Bainy [by Me]
Vamos começar com a memória, que é o resultado da soma: pastel de feira + caldo de cana. Lembro-me muito bem do sabor peculiar da dupla que permeia não só a minha infância, mas de todo e qualquer brasileiro que vai às feiras livres. Quer saber, vou escrever com hífen: caldo-de-cana e pastel-de-feira, para não perder sua temporalidade.
Logo que meus pais se separaram fomos morar no Belenzinho, um pequeno bairro paulistano localizado entre a Mooca e o Belém. Eu tinha sete anos, e foi lá que minha primeira lembrança gustativa se formou – tão boa que sempre que retorno para São Paulo faço questão de rememorá-la.
Nós morávamos na rua Taquari. Todas as quintas-feiras havia uma grande e extensa feira de rua, bem na porta de casa. Legumes, verduras, frutas, brechós, pequenos produtos domésticos, e claro, o caldo-de-cana e o pastel-de-feira. Minha irmã e eu sabíamos que seria o nosso almoço, uma forma que minha mãe arranjou de nos agradar, e, para falar a verdade, ela conseguiu, pois era o almoço mais gostoso da semana. O pedido era sempre o mesmo: um copão de caldo-de-cana e um pastel enorme sabor pizza para mim, e um copão de caldo-de-cana e um pastel enorme sabor queijo com azeitonas para minha irmã. Que memória boa essa, né?!?
A primeira parte da soma – o pastel e suas várias origens. Bolinho primavera da culinária asiática continental, guioza do Japão, samosa da Índia e sambousek da culinária árabe são exemplos de seus ‘ancestrais’ orientais. Mas quando o pastel (que ainda não era o de feira) surgiu no Brasil? Provavelmente, foi com a chegada dos primeiros chineses no século XIX, no entanto, foi após a imigração japonesa do pós Segunda Guerra que ele ganhou notoriedade Brasil afora. Para mim e para minha irmã, pouco importava sua origem. O importante mesmo era nosso almoço de quinta-feira.
Além dessa origem, há também a capacidade que nós, brasileiros, temos de melhorar aquilo que já é bom. Veja bem: as mais diversas receitas ‘ancestrais’ já existiam, mas aqui no Brasil, em nossas feiras livres, o pastel se tornou melhor, mais saboroso, mais apetitoso, chegando ao ponto de ser impossível de ir a uma feira e não degustá-lo.
Agora vamos acrescer a segunda parte dessa soma: o caldo-de-cana. Assim como o pastel, a cana (Saccharum officinarum, Linneau 1753) também é creditada como original do oriente. Nos textos védicos, há uma passagem que denota haver mel brotando de seu interior. Uma leitura poética para todo valor agregado a ela. Em 1532, a sagrada planta ‘shakkar’ (significa açúcar em hindú, se pronuncia chucar, olha aí a similaridade sonora, quem diria!!!) chegou na ‘terra brasilis’. Foi um ciclo econômico do período colonial, plantações difundiram-se no Nordeste, proliferam-se os engenhos de açúcar. Ok! Essas são as origens, mas como o caldo-de-cana caiu no gosto popular? É uma resposta simples: pelo seu sabor… e, posteriormente, pelos benefícios à saúde.
Claro que é preciso analisar a linha do tempo perante o consumo dessa bebida. Com isso, retornamos aos seres humanos escravizados que trabalhavam na própria lavoura da cana. Eles ingeriam seu caldo para se nutrirem e terem energia (não vou entrar em detalhes, não aqui). Essa ingestão foi passando de geração em geração, por todas as classes sociais, e por todos os credos até chegar aos dias atuais, onde encontramos caldo-de-cana sendo vendido nos mais diversos locais.
E, como era de se esperar, nós, brasileiros, aprimoramos sua degustação… Inserimos gelo para ficar geladinho, acrescentamos limão ou abacaxi para aprimorar seu sabor. Uns e outros adoçam a caipirinha (outra bebida bem brasileira), isso sem contar que, se fervê-lo até o ponto de calda, se torna a base da receita do bolo de melado. Bacana, né!
Mas não para por aí, não. Temos que analisar essa soma como um todo. Então senta que vou contar uma historinha: “um dia qualquer, em uma feira qualquer, num bairro qualquer de uma cidade brasileira, havia uma feira de rua, na qual tinha o tio que moía a cana na hora, de um lado da feira, e do outro lado havia uma banquinha que fritava os pastéis (que já eram os pastéis-de-feira) na hora. A mãe do Joãozinho e da Mariazinha, resolveu alimentá-los com os pastéis, e para beber, deu-lhes o caldo da cana”.
Pronto! A união perfeita se concretizou e se enraizou no inconsciente do povo brasileiro. Tão enraizado que as memórias produzidas no ato de se alimentar com pastel-de-feira + caldo-de-cana ficam eternizadas nas lembranças de cada um. Nas minhas, há o gostinho em ver minha irmã comendo com vontade, e eu querendo mais; ou de caminhar atrás da minha mãe durante toda a feira, até chegar o momento mágico da compra de nosso almoço; e mais ainda: reviver aqueles almoços passados trinta anos. Um momento único entre minha irmã e eu.
Pastel-de-feira + caldo-de-cana vai além das origens, do alimento, das calorias e dos benefícios à saúde, pois alimentamos a alma com memórias, lembranças, sabor, e brasilidade.

Cachaça – Trabalho, Prazer e Tempo, por Luiz Rosa
Sol quente, meio dia, terça-feira.
— Calor da porra!
Trabalho árduo, furando poço, dando pedra, muito ainda pro dia acabar. Hora do almoço, P.F. na dona Maria: dez merréis o prato. Barato, não é. Na conta do patrão. — Arre! Não tem importância.
— Desce uma cana pra esfriar essa lua1! Era pra dar coragem. — Que diabéisso?! Garrafa velha empoeirada, esquecida por muito tempo no barracão atrás do bar. Amarelada, na rolha.
— Ô seu Zé, isso é coisa de meu pai. Agora que ele se foi tô arrumando a bagunça. Encontrei de manhã. Tava perdida. Tô abrindo a primeira agora, toma um gole?
— Num vai me matar não, vai? Tenho um poço pra cavar…
Posta no copo, pingado pro santo, numa talagada só, virou os olhos. Delícia de cana, fruto da terra, suave, perfumada. Por um instante, sensação gostosa: abraço de mãe, brincadeira de pique, forró em terreiro descalço.
— Deus do Céu! Assim tu me mata! Desce outra, vá!
— Sabia que tu iria gostar…
— E me diga: foi d’onde que teu pai trouxe essa desgraça?
— Mais respeito seu Zé se não, eu juro, guardo a garrafa.
Um cão mansinho. — Faz isso não, né por mal…
— Essa daqui é herança de meu tio, pai não vendeu nenhuma.
Tomou outra, a derradeira. Viu estrelas, viajou no tempo… Devaneios sobre um saci preso na garrafa. — Mas será d’onde que veio isso?
***
Do outro lado da garrafa, esquecida por quinze anos, a labuta: suor e sangue de mestre Silvino e sua mula pampa. História guardada à rolha, coberta de poeira e tempo. Em seu alambique: moenda e barracão, sertão mineiro. Tempo de seca, invernagem, palhoça descolorindo o vale, tempo de produzir mel. À cata de lenha, corte da cana, reparar a fornalha, ajustes na panela, fogo. Logo começa a pingar. Dedicação e ciência matuta.
Mestre Silvino nunca acompanhado, também não anda só. Segue seu trabalho mudo, caramiolando, perdido nos seus assuntos. Grunhindo repiques imperativos que sua companheira entende bem: — Pare! Ande! Puxe! — Por dentro o velho é uma moenda prensando conflitos não resolvidos. Coisas que passaram, não existem mais, que ainda ecoam, tomam vida. Pensa, procura entender, mas não para de trabalhar. É o que o motiva.
A mula não quer girar moenda, não quer buscar lenha, não entende para que tanta cana, não sabe o que é cachaça. Trabalha por pura obediência, pela certeza que no fim do dia estará a remoer o bagaço doce, regalo na seca, sobra de engenho, o que tem.
No alambique tudo se transforma, toma outro sentido, ganha outro nome: cana espreme, sai bagaço, vira garapa, daí fermenta e vira mocho, mocho ferve, esfria, pinga e vira cana de novo, processo dolorido e lento. Sacrifício2: tem sua cabeça decepada, o coração extirpado, o rabo cortado fora. O que resta é o motivo de tudo. A cachaça. Posta em uma dorna de umburana, deixada esquecida no tempo, até a chegada da primavera com sua chuva esverdeando o pasto. Tempo de pôr na garrafa, preparar a mula, encilhar charrete, descer o vale, encontrar seu irmão, dono da venda.
1 Forma criativa e regional de dar ênfase à sensação de calor extremo.
2 Cabeça, coração e rabo são nomes comumente usados para designar os tipos de destilados.

Rapadura – A Força do Nordestino, por Paulo Câncio
Era o ano de 1593, no interior do Ceará. Otávio madruga para trabalhar na roça. Anda longa distância. É dura sua labuta. Volta para casa cansado. Em momento de descanso, tira um alimento da mochila – um pedaço de rapadura.
— Desde quando passou a comer rapadura? – Perguntou Henrique, colega de trabalho, em tom de censura.
— Desde hoje.
— É o alimento que os escravos comem.
— Bobagem.
— Trabalhamos duro como escravos. Somos mal pagos. O patrão não nos trata com respeito. Não quero mais uma coisa que nos faça parecer escravos.
— Somos mal pagos. Rapadura é barato. Trabalhamos duro. É fácil de transportar. E é muito gostosa. Adoça a dureza da vida.
— Você prejudica a imagem de nossa classe.
— Sei que não sou escravo. E eu sou livre para comer rapadura por escolha.
Começou uma discussão em grupo, mas não levou muito tempo, pois tinham que voltar ao trabalho.
Outros trabalhadores seguiram o exemplo de Otávio. Outros alimentavam a ladainha de Henrique. O primeiro venceu. O sorriso no rosto ao comer chamava a atenção. O vigor dos que comiam rapadura há algum tempo também. Alguns deles passaram a usar rapadura, à noite, para adoçar o café. O açúcar estava caro. Começaram a comentar que reduzia o cansaço. Eram homens sem instrução, mas ciência é observar a natureza e tirar conclusões.
Experiência semelhante aconteceu com Sérgio no Piauí, em 1625; com Roberto na Paraíba, em 1678; com Júlio, em Pernambuco, em 1715; com Nivaldo, na Bahia, em 1745; com Geraldo, em Sergipe, em 1782. Não se tem certeza dos nomes verdadeiros deles nem do período exato em que viveram. Foram pessoas sem destaque na sociedade. A questão é que a rapadura foi ganhando popularidade no Nordeste. Não só trabalhadores, mas viajantes em geral passaram a transportar a rapadura em sacolas e mochilas, frequentemente misturada com farinha seca. Alguns desses viajantes eram pessoas conhecidas, o que estimulou o consumo do alimento. Um desses viajantes foi Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, o rei do cangaço.
Para as autoridades, Lampião era um bandido, uma ameaça. Para a população sertaneja, um herói, um homem com senso de honra. Durante quase 20 anos esteve em atividade no cangaço, demonstrando uma incrível força. Afinal de contas, o nordestino é forte; gerações e gerações de seca, fome e pobreza, seguindo firme com muita energia e calor humano. A rapadura é um dos seus símbolos. É uma fonte de força tanto física quanto mental. É culturalmente forte. Tem espaço garantido na culinária nordestina como sobremesa típica, parte da merenda escolar (em alguns estados), consumida adicionada à castanha de caju, coco e amendoim.
A rapadura ficou tão famosa que tem até dois museus com seu nome. O Museu da Rapadura no Ceará, na cidade de Aquirez, (em um engenho de cana antigo que traz aspectos históricos da rapadura e da produção de cana) e o Museu do Brejo Paraibano, na cidade de Areias, conhecido como “museu da rapadura”.

Maculelê, por Karine Souza e Pousas
“Ô boa noite, pra quem é de boa noite, ô bom dia, pra quem é de bom dia, a bença, meu pai, Maculelê é o rei da valentia”
Atabaques ritmados e grimas (pedaços de pau) ou até mesmo facões girando e se chocando no ar – quem já teve a oportunidade de dançar ou assistir ao Maculelê certamente se lembra do espetáculo de inestimável riqueza cultural, que é um misto de dança, rito e luta marcial.
Diz-se que surgiu nos canaviais de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, durante o século XVIII e foi resgatado pelo mestre Popó do Maculelê, salvaguardando este patrimônio imaterial como parte da capoeira. Alguns estudiosos acreditam que é de origem indígena e até mesmo há quem especule que o uso dos bastões é um resgate da cultura portuguesa.
A lenda
Conta-se que Maculelê foi um escravo que tentou fugir e não conseguiu. Foi levado para o tronco e açoitado cruelmente, para servir de exemplo.
Quando se distraíram um pouco ele conseguiu se desvencilhar das amarras e fugiu para o mato. Se não fosse pego, seria exemplo de resiliência, esperança e libertação para seu povo.
No mato há quase 7 dias, já não tinha forças para seguir em frente. Caiu no chão. Os índios, que já acompanhavam os passos dele há algum tempo, se aproximaram e descobriram um homem quase morto. Levaram-no para o pajé e cuidaram dele. Para a surpresa de todos, ele se curou.
“Você bebeu Jurema
você se embriagou
da flor do mesmo pau
vosmicê se alevantô“
Maculelê foi acolhido pela tribo e ficou feliz. Em menos de um mês já tinha se recuperado dos ferimentos que quase tiraram sua vida. Deixou para as cicatrizes carregarem o fardo da história do que vivera até ali.
Era dia de caça. Maculelê estava feliz em poder ir para o mato com seus novos amigos. Mas para seu espanto, os índios o proibiram de ir com eles. Embora bem recebido, não era aceito. Ficou ali, contrariado. Gastou parte do tempo assistindo ao trabalho das mulheres, às brincadeiras das crianças e ao mudo exercício dos mais velhos que se contentavam em aguardar o fim se aproximar. Se cansou, foi deitar na rede dentro da oca.
De repente, ouviu-se um barulho diferente. Uma tribo rival se aproveitou da saída dos guerreiros para atacar a aldeia. Maculelê não pensou duas vezes: pegou dois paus, saiu de salto mortal.
Mesmo armados, os inimigos não contavam com tão bravo guerreiro. Naquele dia, a tribo rival precisou fugir rapidamente, deixando apenas aqueles que se deitaram para sempre logo após conhecerem a coragem e a força de Maculelê, que os enfrentou munido apenas de dois bastões.
Os guerreiros de sua tribo, ao retornarem da caçada, não acreditaram no que viram. O pajé o reconheceu no mesmo instante: és Maculelê!
“Sou eu, sou eu,
Sou eu, Maculelê sou eu.”
Deste dia em diante, todos celebram os atos heroicos de Maculelê.

Doce Amargor, por Stéfani Quevedo

Foto: Fabiane de Paula. Confira no link.
Ares de um Brasil Colônia
No Sertão Nordestino
O povo do engenho
Durante o inverno
Planta sonhos
Nas terras de alguém.
O suor no eito
Regava a cana
Que a boca do tal senhor
Havia de adoçar.
Uma noite especial
Revestida de apelos
A vida melhora
É festa!
O Menino Luz se aproxima!
Povo de fé é avistado
Corações abertos para testemunhar
Sagrado
Profano
Comungam do mesmo pão.
Eis o Reisado!
Envolvido na poeira verde-amarela.
Cultura de gente pé no chão
As mãos calejadas por cada memória
Redesenham histórias
Com suas heranças
Europeias
Africanas
Indígenas
Temperam a folia!
Braços dados com três Reis do oriente
Que a estrela guiou
Até o menino luz.
Alguns festejam
Começando no dia 25
Outros porém
Partem para brincar Reisado
Na aurora do novo ano
Até seu sexto dia.
Teatro nômade
O Guia vem chamando
O Coice reafirma
Tristeza fica para trás.
Senhor da cana
Faz a vez do rei.
Ainda tem o mestre
Ajeita as vestes
Prepara as tradições.
Em meio ao som
Viola
Pandeiro
Triângulo
Sanfona.
Tem boi
Tem burro
Tem caretas.
A máscara de couro
Toma seu lugar.
Credos se abraçam
Sincretismo passa a reinar
Promessas
Curas
Na Folia de Reis.
Pau de Fita
Cria laços
Tal qual o engenho.
Cortejo de brincantes
Autos de fé
Encenam
Criam
Bailam
Destacando um personagem
O injusto patrão
Que oferta mirra
Aroma sedutor
Ao ser deglutida
Os de pé no chão
Sentem o sabor que amarga
Sonhos tão doces
Regados pelo suor
A criança na manjedoura
Também prova
Há um porvir de sacrifício
Mas terminam a noite
Aliviados
O Menino Luz há de abrir caminhos
Tal qual uma estrela Suas vidas a guiar.

Livros Indicados
Nesta edição, os livros recomendados são de escritoras contemporâneas: Luciana Hidalgo, Andréa Pachá e Martha Medeiros. Já leu alguma delas? Não? Então! É uma boa pedida!

Penélope dos Trópicos
Autor: Luciana Hidalgo
Vencedor do Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional 2023, esse romance conta a história de uma Penélope contemporânea, arquiteta e desenhista, que anda diariamente numa praia tropical, estranhando a humanidade à sua volta, a violência dos movimentos de extrema direita, mas nem por isso se intimida. Aos 30 anos, ela vive todos os absurdos do seu tempo com inteligência, coragem e humor. Enfrenta a polícia em manifestações contra neofascistas, inventa projetos utópicos para reduzir a desigualdade social ao redor, procura o amor (esse mistério) em aplicativos de encontros no celular. Autora premiada com dois Jabuti, Luciana Hidalgo se inspira na clássica personagem da “Odisseia”, mas inverte os papéis do clássico de Homero, fazendo dessa Penélope dos trópicos a heroína de uma pós-modernidade caótica. Escrito com uma ironia fina, numa prosa leve e enxuta, esse premiado romance deixa sua marca na literatura brasileira pela originalidade da narrativa e pela ousadia em criar uma Penélope pós-moderna carismática, irreverente, simplesmente arrebatadora. Saiba mais…
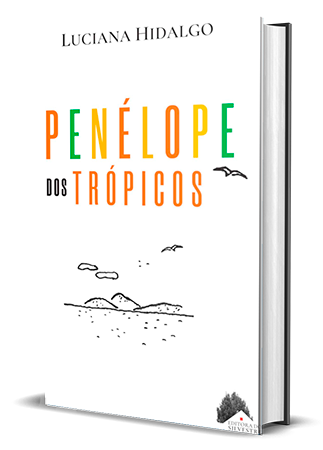


Velhos são os Outros
Autora: Andréa Pachá
O novo livro da autora de Segredo de Justiça, que inspirou a série de sucesso no Fantástico.
Depois de quase vinte anos à frente de uma Vara de Família, cuidando de casos de divórcios, pensão, guarda e convivência familiar, a juíza Andréa Pachá se viu diante de um novo desafio: assumir uma Vara de Sucessões, onde lidaria com julgamentos de inventários, testamentos e curatelas. É a partir das experiências dessas audiências que Pachá desenvolve seu novo livro Velhos são os outros. Com talento singular para transformar as vivências no tribunal em ficção e uma capacidade impressionante de criar personagens muito vívidos e com desejos e motivações com os quais todos se identificam, Pachá narra acasos do tempo, da memória e das relações em família da perspectiva da Justiça mas sobretudo da perspectiva humana. Histórias delicadas, bem-humoradas e emocionantes sobre a longevidade pela qual tantos de nós anseiam ― aquela que trará consigo as alegrias, dores, descobertas e perdas que só quem já caminhou bastante pode experimentar. Saiba mais…

Felicidade Crônica
Autora: Martha Medeiros
Os 20 anos de cronista de Martha Medeiros estão pontuados por questionamentos acerca da natureza da felicidade. Por lembretes para que busquemos a felicidade sempre, em todos os momentos. Por constatações de que a felicidade, muitas vezes, chega de mansinho e é preciso um olhar treinado para avistá-la. Neste volume, o leitor encontrará os textos da autora sobre os temas sem os quais uma existência feliz não se dá – Curtir a vida, Amor-próprio, Família e outros afetos e Viagens e andanças. Saiba mais…



Continue acompanhando em nosso site: Edições de 2023 e Edições de 2024.
Caro Leitor! Inscreva-se em nossa Newsletter, receba todos os meses no seu e-mail e ainda com direito a surpresas.
Caro Escritor! Saia da zona de conforto e venha fazer parte desse Canal Literário.
Aproveitem nossa sessão de Capítulos Gratuitos de Nossos Escritores, que disponibilizaram além do que as plataformas de vendas. Capítulos especiais somente no Literato Dente-de-leão.

Corpo Editorial


Designer e Criação
Sérgio Fernandes
Consultor de T.I. & Terapeuta Corporal
Instagram: @sehfernandes
Site: sehfernades.com.br
Autor do Livro Zé das Campas


Escritores da Edição nº 14 de 2024 – Brasil Rural – Cana-de-açúcar


Cristiano Landgraf
Arqueólogo
Instagram: @landgraf_arqueologia
YouTube: @memoriasesquecidaslandgrafarq



Mara Bayni
Escritora, Aromaterapeuta e Terapeuta Holística
Instagram: @mbescritora
Autora dos Livros 240 horas, Godheid, Sangre de Diosa e Código de Sangue e Honra.

Luiz Rosa
Nascido e criado na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Casado e pai de quatro filhos fantásticos, escrevo contos e romances sobre pessoas simples do campo e periferias.
Instagram: @luiz_rosa_escritor_
Autor dos livros: O diário de um homem só, Depois do tombo, Contos leves de Açúcar, Lona Prata Chão Pisado e do Tempo que o Tempo me deu.



Paulo Câncio
Escritor & Pianista
Instagram: @paulocanciodesouza
Autor dos Livros Trajetória de Aventureiro
& Momentos da Vida (Direto com Autor)



Stéfani Quevedo
Professora de Produção de Texto e Literatura Comparada e Influencer Literária
Instagram: @stefani.qm e @prosa.verso.vinho
